A Dona Francisca da
Ribeira
A Dona Francisca era certamente a cliente mais pobre que comprava na mercearia do meu pai. Mas também a mais fiel.
Meu pai ensinou-me desde o berço que toda a gente merecia
respeito. Embora eu soubesse que a D. Francisca não era dona de nada, tratava-a
sempre por Dona Francisca da Ribeira. Talvez fosse dona da ribeira, sabia lá…
Entrava e não precisava de dizer nada. Sentada na sua cadeira
a um canto, assento dela e apenas dela, meu pai rodeava o balcão para lhe levar
um pacote de rapé. Sem rapé enfiado sofregamente nas narinas cabeludas não
havia conversa, muito menos encomendas de cominhos ou canela em pó.
Depois de uns quantos espirros, lá falava a D. Francisca.
Sabia mais do que se passava dentro das casas da cidade do que aqueles que
dentro delas viviam. E, por isso, sempre a vi como o mais parecido com as
bruxas que, normalmente, apenas povoavam os livros de contos. Embora nunca
tenha lido uma bruxa que cheirasse rapé.
Nos dias que correm, a D. Francisca seria certamente dona de
uma habitação social. Naqueles anos sessenta, vivia numa cabana frágil, no
Salto da Ribeira da Conceição. E digo-vos, com franqueza: não sei se seria mais
feliz numa habitação social.
No salto da ribeira tinha o seu rio particular, torrentes que
vinham da Caldeira, por vezes doces e meigas, outras vezes quase lhe levando a
cabana com ela lá dentro. Adormecia com as águas a correr por leito quase seu
e, pela manhã, podia atirar pedras aos rapazes que lhe roubavam nêsperas.
Coisas difíceis de ver num bairro social…
Hoje em dia seria a primeira beneficiária do rendimento
mínimo, já sem idade para grandes inserções sociais. No século passado, comprava
a crédito e pagava sempre no último dia do mês. Não sei onde ia buscar o
dinheiro. Se eram poupanças do tempo em que teria sido nova, embora parecesse
impossível a D. Francisca ter sido nova. Se eram caridades anónimas ou virtudes
vicentinas. Mas caloteira é que a D. Francisca nunca foi e não consta que
tivesse contas na Suíça…
Tinha um xaile. E acho que foi sempre o mesmo desde que a vi
pela primeira vez, até que a deixei de ver. Preto. E limpo. Ou tinha uma
colecção de xailes pretos, ou era muito limpa. Só cheirava a rapé, isso então
cheirava…
A D. Francisca demorava muito tempo a chegar à mercearia. O
tempo que passava, desde que aparecia no Largo do Relógio, até entrar com
muitos ais no lugar onde se abastecia de alimento, especiarias, sabão azul e rapé…
Dobradas as costas, lentos os passos, cada articulação era um ai pelos
passeios. Mas, no rosto, um resto de rainha sorria em volta.
O caminho que levava à sua casa no salto da Ribeira era muito
estreito. Não daria para passar uma mota, quanto mais um carro. Por isso,
quando a Dona Francisca morreu, foi preciso os quatro homens vestidos de preto
irem a pé para lá e voltarem a pé para cá, o caixão para lá vazio, para cá
pesado.
No ar dos seus últimos ais, ficou um cheiro intenso a rapé. O
mesmo cheiro que se solta ainda hoje de uma campa desconhecida, no cemitério do
Carmo.
P.S. – O Cemitério do Carmo, na cidade da Horta, Faial,
Açores, deve ser a última morada do Mundo com melhor vista. Os mortos quase
ressuscitam todas as manhãs, quando o Pico está descoberto.




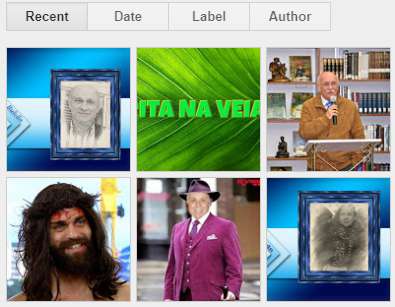










Sem comentários:
Enviar um comentário